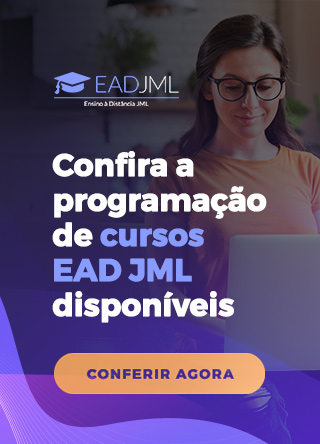No último dia 02/09, o Parque Municipal Quinta da Boa Vista, no Bairro Imperial de São Cristóvão, localizado na Zona Norte, da cidade do Rio de Janeiro, foi alvo da maior tragédia cultural brasileira. Simplesmente, a mais antiga instituição científica do Brasil e, o até então um dos maiores museus de história natural e de antropologia das Américas ruiu. Com assim, ruiu? Sua estrutura ainda está lá toda imponente! Pois é, mera “fachada”. A importância substancial, sua materialidade, sua riqueza, não mais.
Após escutar todos os relatos dos inúmeros agentes envolvidos direta e indiretamente na referida tragédia (UFRJ, Governo Federal, Bombeiros, Governo do Rio de Janeiro), constatamos a mesma percepção de inúmeras outras ocorrências da mesma natureza: desculpability para todos os lados e transferência dos inúmeros riscos entre os referidos agentes.
Entre as várias informações publicadas, nos chamou atenção a que dizia não haver brigada de incêndio, ou até mesmo, sistema de combate a incêndio (que no mínimo possui o famoso componente sprinkler, ou aportuguesando a palavra, o aspersor de água, ou vulgarizando a palavra, o “chuveirinho” de água).
Pois bem, parece ser inimaginável que um museu com tantas atribuições e referências, de dimensão nacional e internacional, não possua esses dois elementos básicos para a existência e manutenção de museus. Agora, por que pensamos assim? Sempre assim?
Porque esquecem ou não acreditam no mantra do gerenciamento do risco, eternizado na expressão de Emil Gumbel: “É impossível que o improvável nunca aconteça”.
É o que a doutrina da economia comportamental, chama de Viés de otimismo (ou otimismo irrealista), isto é, seres humanos racionais tendem a superestimar a probabilidade de cenários positivos e de subestimar a de cenários negativos.
Ironia ou não, o fato é que acreditavam veementemente que algo pior não iria acontecer no Museu Nacional, até porque uma edificação de 1803 que até aquele momento não tinha sofrido com maiores problemas. Portanto, pensar que um desastre natural pudesse “sumir” com todo um acervo centenário, mesmo não tendo os dois elementos básicos de proteção em um prédio normal (imagina em um histórico) seria pessimismo demais.
Outra notícia relevante veiculada, não poderia deixar de ser, foi o discurso retórico do orçamento e disponibilidade financeira. Ou seja, havia destinação formal orçamentária para a entidade gestora do referido Museu (UFRJ), mas infelizmente o recurso financeiro não chegava na “ponta”, isto é, não tinha dinheiro disponível para alocar em despesas técnicas de manutenção e segurança.
E o que mais nos assusta nisto tudo? Que a situação é resolvida [1] no GRITO! Independentemente da discussão da dicotomia acima mencionada (orçamento x disponibilidade financeira), o dado é que o orçamento destinado ao Museu Nacional girava na média em R$ 500 mil/ano [2]. Por toda comoção nacional gerada pela tragédia, o anúncio oficial do Governo Federal foi de que agora, haverá o repasse de R$ 10 milhões para o Museu Nacional, por meio de orçamento do Ministério da Educação. Ou seja, depois da tragédia, se conseguiu “remanejamentos” que proporcionarão verba que em 1 década não se conseguiu.
Daí bate aquela pergunta devassadora: Por que esperar esse tipo de cenário? Mais uma vez nos socorrendo de uma perspectiva da economia comportamental, a racionalidade humana valoriza demasiadamente o que se chama viés do presente (inconsistência temporal), ou seja, os seres humanos tendem dar um peso maior a recompensas/resultados que estão mais próximas do tempo presente quando consideramos os trade-offs entre dois momentos futuros, ou eventualmente, momentos passados também. Em outras palavras, seria melhor alocar recursos em despesas que geram retorno imediato/presente, do que em despesas que garantem apenas a conservação de um passado ou uma situação incerta no futuro.
Uma pena pensarmos/agirmos assim, pois se pararmos para fazer um cálculo simplista baseado na alocação de “Riscos ex ante” (designam o risco de prejuízos futuros com que as partes se defrontam ao terem recursos escassos) e “Prejuízos ex post” (designam prejuízos que de fato acontecem na falta do recurso apropriado), dúvida não há que não compensa deixarmos “a vida nos levar”, pois os prejuízos ex post são numericamente superiores aos riscos ex ante.
Garantimos que se tomassem ciência do resultado da referida operação, ficariam no mínimo incomodados com ele, o que poderia a leva-los a realizar o tal “remanejamento” orçamentário e que, por tudo o que se foi exposto pelos técnicos do Museu Nacional, não seria da cifra agora mencionada.
Para finalizar, voltando ao papo da desculpability, uma vez que não visualizamos nenhum agente exercendo accountability (o que denota ser responsável, responsivo e responsabilizável) [3], nem precisamos nos ater tanto ao conteúdo das declarações, para constatar que não se fazia gerenciamento de risco (ao menos da forma que deveria ser) no querido Museu Nacional, uma vez que o desencontro de informações por parte desses vários agentes chancela a falta de um plano de ação preventiva e, em especial, de um plano de contingência, de modo a racionalizar as ações necessárias de serem empregadas no caso de ocorrência de algum dos riscos identificados/gerenciados [4], gerando uma maior prontidão na resolução do problema e menor tempo para tomada de decisão (e de forma muito mais segura), bem como para a resiliência institucional.
Em suma, o episódio do Museu Nacional nos ensinou, entre várias coisas, que o nosso típico otimismo irrealista pode nos cegar de riscos relevantes, gerando prejuízos incalculáveis. Chega! Agora, lá vamos nós (povo brasileiro) combater o risco que nos aflige: O risco da desaculturação [5], pois como já dizia o filósofo espanhol George Santayana: “Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo”. Vamos começar a gerenciar os nossos riscos ou iremos continuar otimistas?
O conteúdo deste artigo reflete a posição do autor e não, necessariamente, a do Grupo JML.