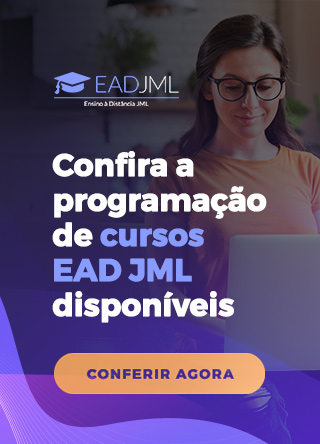Resumo
O Sistema S, composto por entidades como SESI, SENAI, SESC e SENAC, desempenha um papel crucial no desenvolvimento social e econômico brasileiro ao gerir recursos públicos para promover educação profissional e serviços sociais. Apesar de sua natureza de direito privado, essas entidades estão sujeitas a um escrutínio crescente em relação à sua governança e integridade, especialmente em seus processos de contratação. Este artigo explora o paradoxo da aplicação do conceito de discricionariedade, uma ferramenta da Administração Pública, no âmbito do Sistema S3. Analisa como essa discricionariedade, embora seja essencial para a flexibilidade e eficiência, é controlada por órgãos como o Tribunal de Contas da União (TCU), refletindo um regime híbrido que exige governança e integridade robustas. Conclui-se que a harmonização entre a autonomia de gestão, o controle e a adoção de programas de integridade são fundamentais para assegurar a transparência e a sustentabilidade dessas entidades.
1. Introdução
O Sistema S congrega instituições que atuam como serviços sociais autônomos e mobilizam recursos públicos significativos para fomentar a educação profissional, a assistência social, a cultura e o lazer. Diante da relevância de sua atuação e da gestão de verbas públicas, o Sistema S está sob a observância de órgãos de controle, que emitem recomendações para aprimorar sua governança e a integridade de seus processos, notadamente nas contratações de bens e serviços.
A discricionariedade administrativa é um conceito central no Direito Administrativo, referindo-se à margem de liberdade que a administração tem para decidir a melhor solução para satisfazer o interesse público. No entanto, essa liberdade não é absoluta e deve ser exercida com observância dos princípios constitucionais, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O controle judicial da discricionariedade administrativa é uma ferramenta importante para evitar abusos e arbitrariedades.
É nesse contexto que surge o paradoxo. Entidades de direito privado, como o Sistema S, aplicam em suas contratações conceitos indeterminados e discricionários que são típicos da Administração Pública, o que exige a criação de mecanismos de controle e governança. Este artigo se propõe a explorar esse cenário, analisando como o conceito de discricionariedade é aplicado na gestão do Sistema S, a importância dos mecanismos de controle e a relevância de programas de integridade para garantir a transparência e a eficiência de suas ações.
2. A Discricionariedade e os Conceitos Indeterminados no Direito Administrativo
A discricionariedade administrativa tem uma longa história de evolução no direito. Inicialmente, os chamados “atos de governo” eram considerados imunes ao controle judicial. Com o fortalecimento do Estado de Direito, essa concepção evoluiu, e passou-se a admitir que os atos discricionários da administração pública também deveriam ser controlados, ainda que de forma limitada. O controle judicial, portanto, passou a verificar se o gestor agiu dentro dos limites da legalidade e dos princípios constitucionais, como a razoabilidade, a proporcionalidade e a moralidade, para evitar que a discricionariedade fosse confundida com arbitrariedade.
A doutrina brasileira, através de autores como Celso Antônio Bandeira de Mello, reforça que a discricionariedade existe quando o legislador confere ao administrador a possibilidade de escolher entre mais de uma solução válida para atender ao interesse público, contanto que essa escolha seja fundamentada e orientada pelos princípios constitucionais.
Paralelamente, os conceitos indeterminados são amplamente utilizados para situações em que a interpretação objetiva não é possível ou desejável17. Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, os conceitos jurídicos indeterminados são aplicáveis quando a lei utiliza noções vagas que deixam à administração a possibilidade de apreciação segundo critérios de oportunidade e conveniência.
No direito comparado, a aplicação desses conceitos varia19. Na Alemanha, por exemplo, o Tribunal Administrativo Federal conferia ampla discricionariedade, mas a partir de 1991, o Tribunal Constitucional Federal intensificou o controle em áreas sensíveis como o direito à educação, ampliando a interpretação do princípio da legalidade. Na França, o Conselho de Estado aplica o recours pour excès de pouvoir em diferentes graus de rigor, ajustando a intensidade do controle de acordo com a natureza do ato e seu impacto nos direitos dos indivíduos21. Em Portugal, a jurisprudência tende a equiparar os conceitos indeterminados a uma “discricionariedade técnica”, mas o Supremo Tribunal Administrativo limita seu uso, impondo controle quando há erros manifestos ou violação dos princípios administrativos.
3. A Natureza Híbrida do Sistema S e a Aplicação da Discricionariedade
O Sistema S é constituído por entidades de direito privado que, no entanto, gerenciam recursos de origem pública. Essa natureza híbrida exige a adoção de práticas de governança não apenas recomendáveis, mas essenciais para a sustentabilidade do próprio negócio, em observância ao princípio da legitimidade.
A discricionariedade é particularmente relevante nos processos de contratação pública. A Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) estabelece procedimentos para garantir a transparência e a competitividade, mas, dentro desse marco regulatório, os agentes públicos têm uma margem de discricionariedade para tomar decisões. Um exemplo é a escolha da proposta que ofereça o melhor custo-benefício ou a avaliação dos critérios de qualificação técnica e econômica.
De forma semelhante, no âmbito do Sistema S, a autonomia regulamentar para os processos de contratação, por meio de instrumentos normativos próprios, se ancora na Lei nº 14.133/2021, bem como nas orientações de órgãos de controle, como o TCU e a Controladoria-Geral da União (CGU). A Lei nº 14.133/2021, que estabeleceu a obrigatoriedade de programas de integridade para determinadas contratações públicas, influenciou diretamente o Sistema S, que incorporou a exigência de programas de integridade em seus regulamentos. Esses regulamentos preveem a possibilidade de exigir a implantação de um programa de integridade pelo licitante vencedor, principalmente em contratações de grande vulto ou complexidade.
4. O Controle da Discricionariedade e o Papel dos Órgãos de Controle
Toda decisão administrativa que envolve discricionariedade, incluindo as tomadas pelo Sistema S, deve ser motivada e justificada, demonstrando que a escolha atende ao interesse público e aos princípios que regem a licitação. A fundamentação é um dos principais mecanismos de controle, pois permite verificar a legalidade da decisão e, em caso de abuso ou desvio de finalidade, possibilita o controle judicial.
O controle judicial da discricionariedade administrativa se limita à análise da legalidade do ato, verificando se houve observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação, sem substituir o mérito administrativo. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o TCU desempenham um papel fundamental nesse controle. O STF enfatiza que a discricionariedade técnica não pode ser confundida com liberdade absoluta e deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Já o TCU, ao analisar atos administrativos baseados em conceitos indeterminados, foca em garantir a eficiência e a economicidade nas contratações públicas, verificando se a escolha da Administração foi baseada em uma avaliação criteriosa das alternativas.
Nesse contexto, o artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) introduz uma proteção importante para o agente público. Ele estabelece que o agente público só será responsabilizado por suas decisões em casos de dolo ou erro grosseiro. O objetivo desse dispositivo é evitar a “paralisia decisória” ou o “apagão das canetas”, fenômeno em que os gestores evitam tomar decisões necessárias por medo de serem punidos, mesmo que sejam vantajosas para o interesse público. O TCU, no Acórdão 63/2023, equipara o erro grosseiro à culpa grave, definida por uma conduta imprudente ou negligente que se distancia do comportamento esperado de um administrador diligente.
5. Governança e Integridade como Ferramentas de Mitigação do Paradoxo
A governança emerge como um sistema fundamental para assegurar a direção, o monitoramento e o incentivo às organizações. No caso do Sistema S, a governança pública, tal como definida pelo Decreto nº 9.203/2017, é plenamente aplicável e serve como um referencial valioso para aprimorar a gestão. É nesse contexto que os programas de integridade se tornam instrumentos essenciais para fortalecer as contratações dessas entidades.
Um programa de integridade eficaz e robusto deve se pautar em cinco pilares fundamentais, conforme preconizado pela CGU:
- Comprometimento e apoio da alta direção: O “tom no topo” é crucial para disseminar uma cultura de integridade.
- Instância Responsável: A designação de uma área ou indivíduo específico para a implementação, coordenação e monitoramento do programa.
- Análise de Perfil de Riscos de Integridade: A identificação e avaliação dos riscos de fraude e corrupção, especialmente nos processos de contratação.
- Regras e Instrumentos de Integridade: O conjunto de normas, políticas e procedimentos internos que formalizam o compromisso da organização com a integridade, como um Código de Ética e Conduta.
- Monitoramento Contínuo: Mecanismos de monitoramento e auditoria para verificar a efetividade do programa e promover a melhoria contínua.
A adoção de práticas de integridade e boa governança traz benefícios significativos para o Sistema S, como a melhora da imagem e da credibilidade, a redução de riscos de corrupção e fraude, o aumento da eficiência e o atendimento a requisitos legais e normativos. No entanto, a implementação desses programas enfrenta desafios, como a resistência à mudança e a complexidade da estrutura do Sistema S, que exigem estratégias bem definidas, como o engajamento da alta direção e a implementação gradual.
6. Conclusão
Em síntese, o Sistema S, ao gerir recursos de natureza pública, enfrenta um paradoxo na aplicação de conceitos de discricionariedade, uma vez que sua natureza privada se choca com a necessidade de um controle rigoroso, típico do regime público. A discricionariedade, embora essencial para a flexibilidade e a eficiência, não é ilimitada e está sujeita ao controle de órgãos como o TCU e o STF.
A harmonização desse paradoxo é alcançada por meio de um sistema de governança robusto, que fornece a estrutura e os mecanismos para que a integridade seja efetivamente praticada e monitorada. A implementação de programas de integridade, com seus pilares de comprometimento da alta direção, análise de riscos e monitoramento contínuo, fortalece a confiança da sociedade e garante que a discricionariedade seja exercida de forma responsável e transparente. A proteção proporcionada pelo artigo 28 da LINDB, que limita a responsabilização do agente público a casos de dolo ou erro grosseiro, também contribui para esse equilíbrio, evitando a paralisia decisória e promovendo uma administração mais eficiente.
O caminho para a excelência nas contratações do Sistema S, portanto, passa pela internalização da cultura de integridade e pela consolidação de práticas de governança sólidas e transparentes, que equilibram a autonomia inerente à natureza privada dessas entidades com a responsabilidade na gestão de recursos públicos.
Referências
BRASIL. Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Brasília, DF: Presidência da República, 2017.
BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Brasília, DF: Presidência da República, 2021.
CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo. Coimbra: Almedina, 2000.
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU). Programa de Integridade: Orientações para Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal. Brasília: CGU, 2015.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2013.
ENGISCH, Karl. Einführung in das juristische Denken. Heidelberg: Springer, 1968.
LEWIS, C.S. Mere Christianity. New York: HarperOne, 2001.
LOPES, Julieta Mendes. Comentários aos Regulamentos de Licitações e Contratos dos Serviços Sociais Autônomos. 2. ed. Curitiba: Grupo JML, 2024.
MEDAUAR, Odete e SCHIRATO, Vitor Rhein. Os Caminhos do Ato Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2013.
ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). Princípios de Governo Societário da OCDE. 2004.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE). Regulamento de Licitações e Contratos do SEBRAE.
SOUSA, Antonio Francisco de. Direito Administrativo Comparado: Alemanha, França, Portugal e Brasil. Coimbra: Almedina, 1994.
WILLIAMS, Bernard. Moral Luck. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
O conteúdo deste artigo reflete a posição do autor e não, necessariamente, a do Grupo JML.