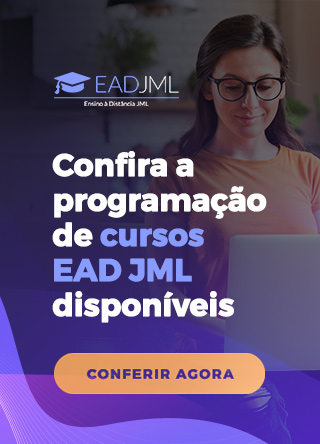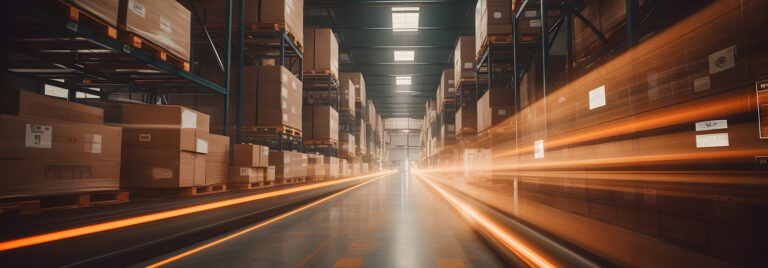Por Viviane Mafissoni[1] e Rodrigo Pironti[2].
Introdução: da promessa à prática da integridade pública
Nunca se falou tanto em integridade nas contratações públicas quanto agora. O conceito que por anos habitou o plano dos discursos institucionais, das boas intenções normativas e dos selos simbólicos começa, enfim, a migrar para o território da exigência regulatória real.
Praticamente cinco anos após o início da vigência da Lei nº 14.133/2021, em 1º de abril de 2021, observa-se que o debate sobre programas de integridade assume contornos mais concretos e contundentes. O tema deixa de ser uma recomendação abstrata e passa a figurar como verdadeiro instrumento de conformidade e responsabilidade nas contratações públicas.
A edição do Decreto nº 69.861, de 11 de setembro de 2025[3], pelo Estado de São Paulo, marca uma nova etapa desse movimento, ao disciplinar a avaliação de programas de integridade de que tratam os artigos 25, §4°, 60, inciso IV, 156, §1°, inciso V, e 163, parágrafo único, da Lei federal n° 14.133/2021, no âmbito da Administração Pública estadual direta e autárquica.
Mais do que uma norma (pré-)operacional, o decreto é um sintoma da crescente preocupação dos entes subnacionais em estruturar instrumentos próprios de controle, prevenção de riscos e fortalecimento da governança. O que já estava mais do que na hora… Contudo, essa busca por protagonismo local precisa dialogar com a também experiência regulatória federal acumulada nos últimos anos, sob pena de comprometer a segurança jurídica, gerar reservas de mercado e transformar a integridade em obstáculo disfarçado — especialmente se considerarmos que licitantes e contratados participam de contratações em todas as esferas.
A experiência demonstra que o maior desafio não é a ausência de normas, mas a incapacidade institucional de transformá-las em cultura. A normatização é o primeiro e importante degrau de um processo que exige aculturamento e coerência entre discurso e prática, bem como e sobretudo, compromisso das lideranças institucionais. Um sistema de integridade amadurece quando o gestor compreende que cumprir a lei é o ponto de partida, não o ponto de chegada.
Este artigo se propõe a realizar uma breve análise do Decreto nº 69.861/2025 à luz do que já se consolidou no plano federal, especialmente com a edição da Portaria CGU nº 226/2025. Não se trata de comparar por comparar. Trata-se de contribuir com o aperfeiçoamento institucional de uma agenda nacional de integridade, que precisa ser coerente, robusta e operacionalmente viável, bem como esclarecer o conteúdo para órgãos e mercado fornecedor.
1. A arquitetura normativa do Decreto nº 69.861/2025: avanços e omissões
A norma paulista estabelece a obrigatoriedade de apresentação de programa de integridade por parte de contratadas em contratações com valor igual ou superior a R$ 50 milhões, ou em outros casos definidos motivadamente pela autoridade competente. O prazo para apresentação é de até 6 meses da assinatura contratual, cabendo à Subsecretaria de Integridade Pública e Privada a análise documental da conformidade (art. 10, §1º).
O decreto também define com precisão o conteúdo mínimo do programa, distribuído em dez parâmetros obrigatórios (art. 3º, I a X), que abrangem desde o comprometimento da alta direção até práticas de direitos humanos e responsabilidade socioambiental (art. 3º, X). Esses parâmetros deverão ser comprovados mediante dois relatórios: o Relatório de Perfil de Integridade e o Relatório de Conformidade, cujos modelos e instruções serão padronizados pela CGE-SP (art. 4º, §3º).
Entre as inovações positivas, destacam-se:
- A previsão de modelos oficiais de relatórios, que podem padronizar a avaliação e reduzir assimetrias de análise;
- A possibilidade de diligências e entrevistas (art. 4º, §4º), fortalecendo a verificação qualitativa;
- O reconhecimento da certificação independente (art. 7º), sem afastar o poder de diligência da CGE-SP (art. 7º, parágrafo único); e,
- A validade de 24 meses (art. 9º) para as avaliações de conformidade, garantindo previsibilidade para o mercado.
No entanto, persistem lacunas relevantes, que provável serão preenchidas em regulamento:
- Pesos ou gradação de pontuação entre os dez parâmetros, o que pode gerar subjetividade;
- Critérios diferenciados por porte de empresa ou setor de atividade, abrindo espaço para reserva de mercado;
- Procedimentos objetivos para reavaliação e dosimetria (arts. 11 a 13), cuja ausência pode comprometer a segurança jurídica; e,
- Governança da avaliação, como independência técnica e prazos de análise.
A seguir, examino seus avanços e suas lacunas mais relevantes.
1.1. Conceituação normativa e escopo de aplicação
O decreto inicia com dispositivo de definições (art. 2º), fixando que:
- “programa de integridade” é o conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia e aplicação efetiva de códigos de ética, políticas e diretrizes, com os objetivos de prevenir, detectar e sancionar desvios, fraudes, irregularidades contra a Administração e fomentar cultura de integridade.
- “obras, serviços e fornecimentos de grande vulto” são aqueles cujo valor estimado supera o limite fixado no inciso XXII do art. 6° da Lei nº 14.133/2021.
Com isso, delimita-se que o decreto não exige aplicação automática a todos os contratos, mas sim àqueles de “grande vulto” (ou caso motivado pela autoridade competente). Ainda, o decreto deixa claro que sua disciplina vale para o Estado de São Paulo e que normas complementares podem ser editadas pela Controladoria Geral do Estado (CGE).
1.2. Parâmetros de avaliação — avanços normativos
O texto normativo avança ao esboçar um rol de 10 parâmetros expressos (art. 3º, incisos I a X) para a avaliação dos programas de integridade, que representam um avanço substancial.
Esses parâmetros são:
- Comprometimento da alta administração (inclusive alocação de recursos financeiros e humanos);
- Instância interna responsável dotada de independência e estrutura adequada;
- Processo de gestão de riscos à integridade: identificação, análise, avaliação e tratamento de riscos institucionais;
- Políticas e procedimentos de integridade aplicáveis a empregados, administradores e terceiros quando necessário;
- Treinamento e comunicação periódica sobre integridade e temas correlatos;
- Canal de denúncia acessível e mecanismos de proteção ao denunciante;
- Procedimentos para interrupção, apuração e remediação de irregularidades, e aplicação de sanções disciplinares;
- Registros contábeis completos e precisos que reflitam as transações da pessoa jurídica avaliada;
- Prevenção de fraudes e ilícitos especialmente nos processos licitatórios, execução contratual ou interações com o setor público (diretamente ou por meio de terceiros);
- Respeito aos direitos humanos, trabalhistas e preservação ambiental.
Além disso, alguns parágrafos complementares estabelecem princípios e limites. O §1° do art. 3º prevê que a norma complementar (ainda a ser editada) definirá a especificação dos requisitos, as condições de verificação e adaptabilidade segundo porte, risco e peculiaridades da pessoa jurídica. O §2° do art. 3º impõe que o programa de integridade seja estruturado, aplicado e atualizado conforme características e riscos da entidade, e que promova constante aprimoramento.
Já o §3° do art. 3º estabelece que os custos e despesas de implantação e manutenção do programa serão de responsabilidade da própria pessoa jurídica (sem ônus direto ao Estado).
Esses parâmetros delineiam uma evolução normativa bem-vinda: deixam claro que não basta um programa formal, mas que ele seja ativo, proporcional ao risco e sujeito a monitoramento contínuo.
1.3. Relatórios exigidos e fluxo documental
O decreto detalha um duplo modelo de relatório que a pessoa jurídica deve apresentar para efeitos de avaliação.
O Relatório de Perfil (art. 5º): destinado a mapear características institucionais da empresa, suas interações com o setor público, estrutura organizacional, faturamento, contratos públicos históricos, uso de agentes intermediários etc.
E o Relatório de Conformidade (art. 6º): cujo objeto é demonstrar o funcionamento efetivo do programa, com histórico de casos, estatísticas, evidência de que mecanismos previstos nos parâmetros (art. 3º) estão em operação na rotina da empresa.
O decreto exige, ainda, que todas as informações sejam devidamente comprovadas por documentos oficiais, mensagens eletrônicas, atas, memorandos, correspondências etc. (art. 4°, §1° e §2°). Os modelos dos relatórios serão disponibilizados pela CGE (art. 4°, §3°) para padronização.
O órgão contratante ou a CGE têm poderes para diligenciar, entrevistar, solicitar documentos complementares e realizar visitas técnicas ou entrevistas para verificação da veracidade das informações, antes ou durante a execução do contrato (art. 4°, §4°).
1.4. Metodologia de avaliação, pontuação e validade
O decreto prevê que a avaliação do programa de integridade será conduzida com base em pontuações atribuídas aos requisitos estabelecidos (art. 8°, caput, inc. I), considerando:
- a adequação do programa ao perfil de risco da entidade (art. 8°, inc. II);
- a aplicação efetiva do programa no dia a dia (art. 8°, inc. III);
- a adoção de medidas de aprimoramento, remediação e correção de ilícitos anteriores (art. 8°, inc. IV).
A norma prevê que o programa “implantado, desenvolvido ou aperfeiçoado” é aquele que atinge pontuação mínima estabelecida pela norma complementar mencionada no art. 3°, §1° e o resultado positivo da avaliação tem validade de 24 meses (art. 9°).
No caso de não atingimento da pontuação mínima, é concedido prazo de 90 dias para apresentação de documentação complementar para reavaliação (art. 11).
Entretanto, o decreto veda que a certificação voluntária seja utilizada como documentação complementar nesta reavaliação (art. 11, par. único)
Há previsão expressa de que a avaliação deixa de ser exigida se a entidade possuir certificação voluntária válida emitida por entidades públicas ou privadas reconhecidas pela CGE, conforme convênios e parcerias – embora essa dispensa não exclua a prerrogativa de diligência por parte do órgão contratante (art. 7°).
O decreto ainda prevê que em casos de termo aditivo que faça o contrato ultrapassar o limite de grande vulto, impõe-se a obrigação de implantar programa de integridade no prazo de 6 meses, contado da assinatura do aditivo (art. 10, §3°).
Para contratos já nesse patamar, a própria assinatura ou termo aditivo que ultrapasse o limite deve ser comunicado à CGE no prazo de 15 dias (art. 10, §4°).
As contratações em consórcio devem impor que todas as consorciadas implantem o programa (art. 10, §5°).
1.5. Sanções, reabilitação e defesa
O art. 12 prevê hipóteses de aplicação das sanções previstas nos incisos I a III do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, caso o contratado:
- deixe de prestar as informações exigidas no prazo (art. 10);
- não apresente documentações complementares no prazo (art. 11);
- não alcance a pontuação mínima após reavaliação;
- haja desconformidade entre documentos e prática efetiva do programa (art. 12, inc. IV).
As multas variam de 0,5% a 10% do valor do contrato ou do objeto da contratação direta, nos termos do art. 156 da L 14.133 e do art. 162, observando critérios de dosimetria (art. 12, §1°). Nas hipóteses de mora no cumprimento das exigências (arts. 10 e 11), é permitida a notificação para purgação da mora em 30 dias antes da multa, salvo se não cumprida (art. 12, §2°). Cabe recurso ou pedido de reconsideração das decisões sancionatórias ou de reavaliação nos prazos de 15 dias úteis (art. 13).
O art. 14 disciplina situação de empate entre licitantes: admite-se, para desempate (art. 60, IV da L 14.133), que o licitante declare que possui programa de integridade, observado modelo da CGE, sendo depois submetido à avaliação conforme o decreto. A falsidade dessa declaração ou a não obtenção da pontuação mínima configura infração (art. 155, inciso VIII da Lei 14.133/2021) (art. 14).
O decreto prevê que a aplicação de sanção e o julgamento de infrações que incidam também sobre atos sujeitos à Lei nº 12.846/2013 observarão rito procedimental conjunto (art. 22).
Disposições finais ainda preveem retenção de valores, desconto em garantias, compensação e cobrança administrativamente ou judicialmente dos valores de multa não pagos (art. 18).
Importa registrar que reorganização societária da pessoa jurídica não afasta a obrigação de cumprir os dispositivos do decreto (art. 19).
Conforme o art. 20, o Controlador-Geral do Estado editará normas complementares para execução da norma principal.
Empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias podem adotar as disposições do decreto, respeitando regulamentos internos e normas específicas (art. 21). Fundações em que o Estado tenha representação também devem se adequar (art. 23).
1.6. Síntese crítica: pontos fortes e lacunas normativas
Com essa descrição pormenorizada, fica claro que o decreto paulista possui inovações relevantes. Avança ao oferecer rol articulado de parâmetros de integridade (art. 3º). Introduz metodologia de avaliação por relatórios de perfil e conformidade (arts. 4º a 6º). Previsão de pontuação, prazo de validade e oportunidade de reavaliação (arts. 8º a 11). Mecanismos sancionatórios expressos, com previsão de multa e instrumentos de defesa (arts. 12 a 14). Flexibilidade para adoção por entidades em que o Estado tem participação (art. 21) e compatibilização com a Lei Anticorrupção, inclusive julgamento conjunto (art. 22).
Por outro lado, persistem omissões e riscos expressivos. Embora traga parâmetros, não fixa os pesos ou pontuações mínimas — isso dependerá da norma complementar futura (art. 3°, §1°) — o que deixa margem de discricionariedade.
Não há previsão clara, já no decreto, de diretrizes de proporcionalidade ou calibragem das exigências conforme porte ou setor (o que remaneja essa tarefa para norma complementar).
A comissão interna e o órgão contratante mantêm poder de verificação e diligências, mas sem indicação expressa de critérios mínimos de formação, independência ou estrutura técnica.
A norma complementar que definirá regras de pontuação, pesos, critérios de reavaliação e adaptação conforme risco ainda não existe — o decreto depende dessa peça para ganhar robustez real.
A reavaliação admitida em 90 dias é restrita ao tempo e documentação suplementar, mas não contempla possibilidade de plano de conformidade gradual para entidades em início de maturidade.
O uso de penalidades previstas na Lei 14.133/2021 exige adequada fundamentação e critérios objetivos de dosimetria, sob pena de judicialização, especialmente em face da subjetividade remanescente.
A sanção e os mecanismos de retenção, garantias e compensação são bem elaborados, mas carregam risco de execução conflituosa se não houver clareza nas regras procedimentais e critérios de aplicação (exigindo forte fundamentação).
A norma não trata explicitamente de requisitos de auditoria independente, métricas de desempenho ou integração com sistema digital unificado para padronização entre órgãos estaduais.
Em resumo: o Decreto nº 69.861/2025 representa um avanço normativo importante, que eleva o padrão de exigência de integridade no Estado de São Paulo. Mas sua eficácia dependerá decisivamente da norma complementar, da capacidade institucional da CGE/SP e de critérios de aplicação técnica para minimizar a discricionariedade, os riscos de judicialização e eventuais efeitos perversos sobre a competitividade das empresas.
O avanço paulista, relevante sem dúvida para uma pauta normativa de integridade, carrega uma importante contradição, a preocupante assimetria no federalismo de integridade brasileiro. Cada ente federativo caminha de forma autônoma, criando critérios próprios, formulários distintos e parâmetros descoordenados. Sem um eixo de convergência metodológica, a integridade corre o risco de se tornar uma colcha de retalhos regulatória, em que o foco se desloca da efetividade para o formalismo. A ausência de interoperabilidade normativa entre entes pode comprometer a previsibilidade e aumentar o custo de conformidade para o setor privado — transformando o que deveria ser um incentivo à ética em mais um obstáculo burocrático.
2. O risco de reserva de mercado travestida de integridade
A exigência normativa de programas de integridade, quando desvinculada de critérios técnicos de proporcionalidade e contextualização, pode ensejar efeitos adversos ao próprio interesse público. Embora a intenção regulatória seja induzir boas práticas no setor privado, a ausência de calibragem conforme o porte, setor econômico e grau de exposição ao risco da atividade empresarial pode transformar a integridade em um filtro seletivo, promovendo exclusão concorrencial e concentrando oportunidades em agentes econômicos já consolidados.
Do ponto de vista jurídico, tal omissão contraria o princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF/88), bem como os ditames da razoabilidade, eficiência e competitividade previstos na Lei nº 14.133/2021, especialmente em seu art. 5º, incisos II e III. Além disso, desconsidera o tratamento favorecido e diferenciado assegurado constitucionalmente às micro e pequenas empresas (art. 170, IX, e art. 179 da CF/88), amplamente refletido nas normas infralegais que regem o desenvolvimento econômico regional e o acesso democrático às compras públicas.
A integridade não pode ser convertida em privilégio regulado. Sua função é servir como ferramenta de qualificação da relação contratual entre Estado e mercado, e não como obstáculo institucionalizado à ampla concorrência. Ao deixar de prever instrumentos de adequação progressiva e proporcional, corre-se o risco de gerar um compliance de elite — acessível apenas às corporações de grande porte — em detrimento de arranjos empresariais legítimos, porém com menor capacidade técnica ou financeira de estruturação imediata de programas robustos.
É preciso compreender que a integridade é instrumento de governança, não de punição. Quando o Estado adota um modelo avaliativo sem considerar maturidade institucional e contexto setorial, cria-se um ambiente de medo e não de aprendizado. A gestão pública deve enxergar o programa de integridade como um processo evolutivo, e não como um rito de exclusão. A finalidade do controle deve ser pedagógica, capaz de induzir comportamentos éticos e fortalecer a confiança público-privada, sob pena de a integridade se converter em mera retórica sancionatória.
Em termos práticos, a exigência irrestrita e homogênea pode desestimular a participação de empresas locais, startups e fornecedores emergentes, resultando na diminuição da diversidade do mercado fornecedor, na elevação artificial dos custos contratuais e na criação de um mercado regulado por barreiras institucionais travestidas de exigência ética.
É necessário que se incorpore salvaguardas técnicas e jurídicas para garantir que a integridade seja critério de indução — e não de exclusão. Isso envolve prever métricas escalonadas, parâmetros ajustados à realidade das empresas e instrumentos corretivos, como o plano de conformidade e a reavaliação contínua, para assegurar que a ética não seja apenas um diferencial competitivo, mas um direito acessível a todos os agentes econômicos que queiram transacionar com o poder público de forma legítima e comprometida.
3. Conclusão: integridade não pode ser apenas palavra bonita
A edição do Decreto nº 69.861/2025 é um marco importante para o Estado de São Paulo, mas também um convite à responsabilidade. Passados quase cinco anos da entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021, o debate sobre programas de integridade finalmente alcança maturidade normativa, transformando-se em exigência prática e elemento de governança pública.
Integridade não pode ser apenas um requisito no edital. Deve ser critério de gestão, elemento de governança e compromisso com a Administração Pública. Sem método, critério e proporcionalidade, a boa intenção vira obstáculo.
Como profissionais que atuam com governança e compliance há alguns anos, confiamos que os avanços continuarão a partir do debate técnico. Que a integridade não se transforme em máscara, mas em espelho. Porque, no fim, o que se exige do outro deve, antes, refletir na própria gestão.
Em síntese, a consolidação de uma cultura de integridade exige mais do que apenas atos formais: requer consistência, método e coragem institucional. O Decreto paulista é um avanço inegável, mas deve ser visto como ponto de partida de uma agenda de Estado que precisa ser contínua, interoperável e baseada em evidências. É hora de abandonar o protagonismo retórico e adotar uma visão integrada de governança, em que integridade, risco e desempenho caminhem juntos. A integridade verdadeira não se mede pela quantidade de relatórios e documentos que anunciam a conformidade, mas pela capacidade do Estado de reduzir vulnerabilidades e transformar conformidade em uma solida cultura de confiança no setor público.
Referência metodológica: Decreto Estadual nº 69.861/2025 do Estado de São Paulo; Portaria Normativa CGU nº 226/2025; e artigo “Integridade em xeque: a Portaria CGU nº 226/2025 e o fim do compliance de fachada”, de minha autoria.
[1] Advogada; Especialista em Direito Público; Diretora Acadêmica do Instituto Nacional da Contratação Pública – INCP_BR; Estudou sobre Mecanismos de Controle e Combate à Corrupção na Contratação Pública (Universidade de Lisboa, Portugal – 2019); Formada em Alta Liderança pela Fundação Dom Cabral (2019); Membra Consultora da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF; Analista Jurídica de Projetos e Políticas Públicas da Procuradoria-Geral do Estado do RS; Atuação em diversas áreas na Central de Licitações do RS (2010-2021); Ex-Chefe do Serviço de Compras Centralizadas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, vinculada ao Ministério da Educação (2021/2023); Atualmente cedida à Advocacia-Geral da União – AGU como Coordenadora-Geral da Logística da Secretaria de Gestão Administrativa; Professora de pós-graduação da Escola Mineira de Direito e do Instituto Goiano de Direito; Avaliadora de Artigos Técnicos do Consad; Autora de artigos; Coautora de diversos livros e palestrante sobre temas que envolvem contratações públicas.
[2] Pós-Doutor em Direito na Universidad Complutense de Madrid – España. Doutor em Direito Econômico na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Mestre em Direito Econômico e Social na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Autor de várias obras nas áreas de Governança, Compliance, Riscos, Controles Internos e LGPD. Autor de vários artigos em periódicos legais e conferencista em âmbito nacional e internacional. Responsável pela implantação de mais de uma centena de projetos de Compliance nos Setores Público e Privado, dentre eles, Poderes Executivo Estaduais e Municipais, Tribunais de Justiça, Ministérios Públicos, Tribunais de Contas, Estatais, dentre outros. Advogado sócio da banca Pironti+Moura Advogados. www.pirontimoura.com
[3] https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2025/decreto-69861-11.09.2025.html
O conteúdo deste artigo reflete a posição do autor e não, necessariamente, a do Grupo JML.