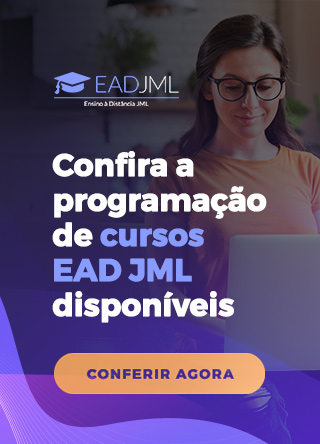Resumo:
O presente artigo examina a natureza jurídica da prorrogação de contratos administrativos, defendendo a tese de que tal prorrogação se configura a partir da concatenação da autorização da autoridade competente e da anuência expressa da empresa contratada, sendo a assinatura do termo aditivo mero ato de aperfeiçoamento formal. A pesquisa aborda a classificação dos atos administrativos, distinguindo atos simples, compostos e complexos, e aplica esse enquadramento ao processo de prorrogação contratual. Com base nos princípios do formalismo moderado e da indisponibilidade pública, apoiado na doutrina de referência, demonstra-se que a formalização extemporânea do termo de aditamento, quando precedida de autorização e aceitação tempestivas, não afronta a exigência de formalização durante a vigência do contrato. O estudo fornece diretrizes práticas para gestores públicos, assessores jurídicos e órgãos de controle interno sobre como documentar e instruir adequadamente os processos de prorrogação, mitigando riscos de nulidade e responsabilização.
Palavras-chave: Contrato. Prorrogação. Formalismo moderado. Termo aditivo. Eficácia jurídica.
Abstract:
This article examines the legal nature of the extension of administrative contracts, defending the thesis that such extension is configured through the concatenation of the authorization by the competent authority and the express consent of the contracted company, with the signing of the addendum serving merely as a formal act of perfection. The research addresses the classification of administrative acts—distinguishing between simple, composite, and complex acts—and applies this framework to the process of contract extension. Based on the principles of moderate formalism and the unavailability of public interest, and supported by leading legal scholarship, it demonstrates that the belated formalization of the addendum, when preceded by timely authorization and acceptance, does not violate the requirement that formalization occur during the contract’s effective term. The study provides practical guidelines for public managers, legal advisors, and internal control bodies on how to properly document and structure extension processes, mitigating risks of nullity and liability.
Keywords: Contract. Extension. Moderate formalism. Addendum. Legal effectiveness.
1. Introdução à situação-problema
A Administração Pública contemporânea enfrenta um dilema recorrente: equilibrar a observância estrita das formas legais com a necessidade de serem alcançados resultados eficientes e tempestivos. No campo das prorrogações contratuais, esse problema se manifesta de forma mais aguda, pois a prevalência do formalismo exacerbado pode conduzir à perda de oportunidades administrativas e à adoção de decisões contrárias ao próprio interesse público que a norma legal pretende tutelar.
É nesse contexto que se faz mister lançar um olhar mais pragmático acerca das finalidades a serem atingidas quando das prorrogações contratuais, de modo a evitar que o excesso de rigorismo acabe por tornar inócua a letra legal, ou que da sua aplicação venha a provocar resultados inadequados ou mesmo danosos à coletividade. Nunca é demais recordar a lapidar lição de Carlos Maximiliano[1], verbis:
Deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis. Também se prefere a exegese de que resulte eficiente a providência legal ou válido o ato, à que torne aquela sem efeito, inócua, ou este, juridicamente nulo.
É indene de dúvidas que todas as vezes que um órgão da administração pública propõe uma prorrogação contratual, tal iniciativa pressupõe, ao menos em juízo inicial, tratar-se da solução mais adequada ao interesse coletivo. Essa conclusão decorre de dois fundamentos essenciais: o primeiro, de natureza qualitativa, pois é razoável inferir que não se prorrogaria um ajuste cuja execução tenha se revelado insatisfatória; o segundo, de caráter financeiro, já que a prorrogação somente se legitima quando demonstrada sua vantagem econômica em comparação com a hipótese de realização de uma nova licitação.
Não raro, as providências necessárias para instruir uma prorrogação contratual demandam tempo precioso. Muitas variáveis podem interferir nesse processo, tais como a demora da empresa na resposta sobre a anuência em permanecer no contrato por mais um período e até mesmo dificuldades na demonstração da vantagem econômica. Outra condição que costuma ser um entrave é a própria burocracia do órgão. Nem sempre os controles internos conseguem atuar de forma ágil e, com isso, o processo pode ser mais demorado.
No mundo ideal, a prorrogação deveria estar devidamente instruída com antecedência confortável o suficiente de modo a mitigar o risco da solução de continuidade do contrato. Entretanto, muito frequentemente, a prorrogação do contrato esbarra com a data do fim da vigência e esse fato pode causar embaraços, mormente pelo fato de que o TCU tem posição consolidada no sentido de que a prorrogação contratual deve se dar dentro do período de vigência do contrato[2].
De outro turno, se convencionou reconhecer que a prorrogação se efetiva com a assinatura do Termo Aditivo. Mas, essa não é a interpretação mais consentânea com o instituto da prorrogação contratual, considerando a natureza do ato administrativo, a complexidade do processo e seus fins colimados.
Tudo isso posto, nas linhas a seguir vamos demonstrar que não necessariamente é a assinatura do Termo Aditivo que configura a prorrogação contratual. Esta ocorre antes disso, sendo a assinatura do instrumento mero aperfeiçoamento do ato administrativo.
2. A importância estratégica dos contratos administrativos nas funções do Estado
É uma constatação fática de que qualquer ação governamental ou política pública depende, em alguma medida, de se contratar algo, seja a aquisição de um bem ou produto, um serviço ou uma obra. Mesmo nos casos em que uma dada ação governamental seja executada por meio de convênios e outras formas de parcerias, sempre será necessário contratar algo. Sendo assim, parece bastante razoável admitir que o Estado atua e opera concretamente por meio de suas contratações.
Por tal motivo tenho defendido que uma das principais funções constitucionais do dever geral de licitar (CRFB, art. 37, XXI), é servir de pilar (um dos principais) ao regime do estado democrático de direito. Sem os contratos, o Estado fica inerte e não atende aos anseios da coletividade. Cláudio Brandão de Oliveira[3] partilha dessa perspectiva, afirmando que:
O Estado brasileiro, à exemplo de vários outros na pós-modernidade, move-se através de contratos. A execução direta de obras e serviços é cada vez mais rara. A iniciativa privada, comprovadamente mais eficaz, é chamada a contribuir, através do vínculo contratual, para satisfação das demandas da sociedade. É possível afirmar que não há atividade estatal que se desenvolva sem o suporte direto ou indireto de contratos. Assim, a Administração Pública se apropriou, há muito tempo, desse instituto nascido e desenvolvido no âmbito do Direito Privado e o submeteu a um regime jurídico próprio, de Direito Público, criando a figura que hoje denominamos de contrato administrativo. (GN)
Pois, como já aqui enfatizado, a atividade contratual da Administração Pública constitui uma das principais ferramentas para a realização das políticas públicas. Bresser-Pereira[4] ao abordar a reforma administrativa do Estado brasileiro, em especial ao analisar a gestão no setor público como estratégia e estrutura para um novo Estado, assim se manifestou:
O objetivo é construir um Estado que responda às necessidades de seus cidadãos; um Estado democrático, no qual seja possível aos políticos fiscalizar o desempenho dos burocratas e estes sejam obrigados por lei a lhes prestar contas, e onde os eleitores possam fiscalizar o desempenho dos políticos e estes sejam obrigados por lei a lhes prestar contas. Para tanto, são essenciais uma reforma política que dê maior legitimidade aos governos, o ajuste fiscal, a privatização, a desregulamentação – que reduz o – tamanho do Estado – e uma reforma administrativa que crie os meios de se obter uma boa governança.
Ao se levar em consideração essa premissa, reconhece-se que o tratamento a ser dado aos atos que visam dar continuidade contratual, em verdade, representam a própria continuidade da prestação estatal. É sob esse prisma que se deva avaliar o equilíbrio entre as formalidades processuais, a legalidade estrita e os interesses finalísticos do ato de prorrogação dos contratos.
3. O formalismo e burocracia na administração pública brasileira: riscos inerentes às prorrogações contratuais
Historicamente, no Brasil, a Administração Pública é sinônimo de burocracia, o que atrai uma percepção negativa. O processo burocrático na administração pública é visto como algo ultrapassado, decadente e pernicioso e totalmente desprovido de utilidade. Algo utilizado apenas para criar entraves e dificuldades, tanto para servidores como para a sociedade usuária dos serviços públicos.
Nada obstante, a burocracia, como modelo de processo de trabalho é, em sua concepção original, um modelo racional de organização estatal concebido para garantir impessoalidade, previsibilidade e eficiência administrativa, conforme defendeu Max Weber em celebrada obra póstuma[5]. O clássico autor, concebeu-a como um sistema de dominação legal-racional fulcrado em regras formais, hierarquia e competência técnica. Logo, a burocracia, de per si, não é um mal por princípio. Ao revés, bem utilizada, é um modelo de trabalho que tem potencial para garantir controles internos eficientes.
No entanto, o que se observa, em larga medida, na Administração Pública brasileira, é a distorção desse modelo em um aparato excessivamente cerimonioso, que privilegia a forma sobre o conteúdo. Dá-se especial importância ao cumprimento de ritos processuais, mesmo que desse agir não se extraia a obtenção de resultados concretamente úteis.
Em diversas situações, observa-se que o apego exacerbado à forma leva à recusa injustificada de atos administrativos plenamente válidos sob o ponto de vista material, apenas por não atenderem a exigências formais secundárias. No campo das contratações públicas, essa tendência resulta em atrasos nas contratações, aumento de custos operacionais e perda de eficiência na aplicação dos recursos públicos. A burocracia, nesse contexto, converte-se em obstáculo à governança e à efetividade das políticas públicas, contrariando os princípios constitucionais da eficiência e da razoabilidade[6].
O desafio contemporâneo consiste em equilibrar a segurança jurídica — essencial à probidade e ao controle — com a agilidade administrativa, necessária à efetividade das ações governamentais. O caminho está na consolidação de um modelo de controle orientado por evidências e resultados, que reconheça a boa-fé do gestor e privilegie o cumprimento da finalidade pública sobre o mero ritualismo procedimental.
É bastante cediço que tudo o que envolve atos administrativos relacionados às contratações da Administração Pública demanda um esforço institucional hercúleo para ver concluído. Por mais simples que seja a contratação, sempre será necessária a intervenção, dentro do mesmo órgão contratante, de diversos atores e setores. Aquisições simples e mesmo de pequeno valor, como material de papelaria, por exemplo, exigem a atuação de agentes responsáveis pela especificação do material, passa pela área financeira, pela Assessoria Jurídica, pelas mãos do Agente da Contratação/Pregoeiro e, culminam com o ato final da autoridade competente. É por isso que se reconhece que o processo de trabalho relacionado ao ciclo de vida da contratação pública é multi e interdisciplinar.
A prorrogação de contratos administrativos, de seu turno, representa um dos pontos mais sensíveis da gestão contratual, especialmente em razão dos riscos de solução de continuidade na prestação estatal. Isso considerando que tais atos ocorrem, na maioria esmagadora dos casos, em contratos conceituados como de natureza continuada, que, nos termos do art. 6º, XV da Lei nº 14.133/2021, são aqueles contratados pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas. Com o didatismo que era a marca de seu trabalho científico, o saudoso mestre Diógenes Gasparini[7] define os contratos continuados como aqueles que:
[…] não podem sofrer solução de continuidade na prestação que se alonga no tempo, sob pena de causar prejuízos à Administração Pública que dele necessita. Por ser de necessidade perene para a Administração Pública, é atividade que não pode ter sua execução paralisada, sem causar-lhe danos. É, em suma, aquele serviço cuja continuidade da execução a Administração Pública não pode dispor, sob pena de comprometimento do interesse público. (GN)Logo, além de representar uma necessidade de prestação contínua, cuja eventual interrupção pode vir a causar dano relevante à serviço essencial, ao optar pela prorrogação contratual, como dito alhures, tratar-se-á da melhor solução para se atingir o interesse público. O apego ao formalismo, em alguma medida pode prejudicar justamente o alcance desse objetivo.
Hodiernamente, muitos contratos são complexos e de execução ininterrupta. Cite-se, à guisa de exemplo, um contrato de segurança cibernética que é executado em regime de 24X7X365. Trata-se de um serviço altamente sensível, na medida em que os órgãos públicos são expostos a milhares de ataques cibernéticos diariamente e considerando que praticamente todos os serviços públicos são prestados de forma eletrônica. Muito frequentemente a data fatal para a vigência do contrato acaba recaindo em dia não útil. Como obter, por exemplo, uma assinatura de uma autoridade administrativa ou de um sócio-gerente da empresa contratada em um domingo ou feriado nacional (que pode ser prolongado, como o carnaval e a semana santa)?
Sendo assim, em determinadas situações, pode ser que o apego à forma venha a interferir negativamente na efetivação das prorrogações contratuais quando não for possível ultimar a instrução processual, em toda a sua plenitude, antes do fim da vigência contratual. O resultado prático seria desastroso: não prorrogar o contrato e abrir um hiato na execução, fragilizando a administração. No exemplo acima ofertado, um ataque cibernético não defendido, traria um prejuízo institucional muito mais grave do que a burocracia formal pretendida evitar.
É bem verdade que em um cenário desejável de administração organizada e bem planejada, em que os atos preparatórios de um aditamento de prazo são iniciados em tempo oportuno e cuja instrução segue padrões adequados de celeridade, os problemas decorrentes da burocracia estariam bastante mitigados.
Socorre que, infelizmente essa não é a realidade vivenciada na maior parte dos órgãos públicos, mormente aqueles que contam com estrutura administrativa diminuta e parca mão de obra qualificada. O mais das vezes, os processos são movimentados a destempo, com falhas na instrução que exigem reiteradas idas e vindas dos órgãos de controle (Assessorias Jurídicas, Controladorias), adiando a providência e colocando em risco a continuidade da prestação estatal.
É justamente esse contexto fático que exige debruçarmos sobre o marco inicial da vigência dos aditivos de prazo, inclusive para dar melhor orientação aos gestores públicos.
4. A forma de contagem dos prazos contratuais
Ante de aprofundarmos na solução da situação-problema posta no capítulo inaugural deste trabalho, é necessário deixar bem esclarecido como se devem contar os prazos estabelecidos nos instrumentos contratuais. Pois é a partir deles é que será possível identificar o momento correto para se proceder ao aditamento de prazo, uma vez que, como já mencionado anteriormente, o TCU tem posição firme no sentido de que não é possível aditar contrato cuja extinção pelo decurso do tempo já se operou.
De um modo geral, os prazos contratuais costumam ser fixados em meses ou anos. Recordando que o art. 89 da Lei Geral de Licitações e Contratos prevê que os contratos serão regidos supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, é do código civil que extraímos os parâmetros para contagem:
Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.
§ 1 o Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil.
[…]§ 3 o Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência.
Primeiro ponto é o fato de que a metodologia indicada no caput do dispositivo, no sentido da exclusão do dia do início não se aplica aos prazos dos contratos administrativos, como, aliás, há muito orientou a AGU, no Parecer nº 345/PGF/RMP/20120, reiterado pelo Parecer nº 06/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU[8], assim ementado:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATOADMINISTRATIVO. FORMALIZAÇÃODO CONTRATO.FORMA DE CONTAGEMDO PRAZO DE VIGÊNCIA.
I – Contagem de prazo de vigência contratual. Manutenção do entendimento firmado pelo Parecer nº 345/PGF/RMP/2010. Proposta de exemplo prático a ser adotado pelas autarquias e fundações.
II – A vigência contratual deve iniciar com a assinatura do contrato ou na data nele indicada, ainda que anterior ou posterior à publicação do extrato de que trata o art. 61, parágrafo único da lei nº 8.666/93.
Sendo assim, a contagem deverá ser de data a data. Exemplificando, se um contrato foi celebrado por 12 (doze) meses, com vigência iniciada em 02/10/2025 (quinta feira), venceria no dia 02/10/2026 (sábado). A mesma regra se aplicará aos aditivos, uma vez que, sendo o aditivo instituto acessório ao contrato, vale o corolário do direito privado de que o acessório segue o principal (accessio cediti principali).
Dito isto, considerando que os prazos devem ser contados data a data, conforme o § 3º do art. 132 do CC. E, consequentemente, o eventual aditamento de prazo deverá coincidir com a data final. No exemplo citado, o contrato celebrado para viger entre 02/10/2025 e 02/10/2026 terá o início da sua primeira prorrogação por mais 12 (doze) meses em 02/10/2026.
5. A formação do aditamento de prazo como ato administrativo
A doutrina não diverge quanto à classificação dos atos administrativos quanto à quantidade de partes envolvidas. Poderão ser unilaterais ou bilaterais. Por parte deve-se entender não o número de sujeitos requeridos para a produção do ato, mas sim, a direção adotada pelos diversos interesses que motivam a declaração de vontade.[9] Nas sábias palavras de Carlos Alberto da Mota Pinto,[10] “uma parte se compõe pela manifestação de um ou mais sujeitos de direito, desde que os interesses sejam paralelos, formando um só grupo.” Sendo assim, quando o fato jurídico que autoriza a produção do ato administrativo demandar uma só parte, o ato será unilateral. Ainda que necessária a intervenção de mais de um sujeito. A permissão de uso sem prazo certo é um ato unilateral, pois a não é necessária a intervenção do permissionário na expedição do Termo de Permissão, cuja emissão pelo ente público é suficiente para gerar os efeitos jurídicos da outorga.
Já no ato administrativo bilateral, sua produção depende da concatenação das manifestações de duas partes, pois os interesses dos sujeitos envolvidos na produção do ato são contrapostos. Neste caso, uma das partes não pode, sozinha, produzir o ato. Nessa categoria é que estão inseridos os contratos, consequentemente, seus eventuais aditamentos.
Logo, a prorrogação dos contratos administrativos é ato bilateral que resulta da convergência das vontades contrapostas entre a Administração Pública e o contratado, dentro dos limites previstos na legislação e no instrumento contratual. Essa convergência ocorre quando o processo está instruído com a anuência da contratada com a prorrogação e a autorização da autoridade competente.
Considerando que a jurisprudência do TCU é sólida no sentido de que a prorrogação contratual deva se dar dentro da vigência do contrato, uma vez que não se pode estender no tempo o que já se encontra extinto, é absolutamente necessário se estabelecer em que momento especificamente a prorrogação se consolidou para se saber se a mesma foi realizada dentro ou fora da vigência contratual. E nesse contexto, o intérprete deve se desapegar das amarras burocráticas e aplicar exegese consentânea com os fins a serem alcançados.
Deve-se partir da hermenêutica constitucional que estabelece a ponderação de princípios no sentido de que, conforme a concepção de Robert Alexy,[11] o conceito de direito deve relacionar três elementos necessários: o da legalidade conforme o ordenamento, o da eficácia social e o da correção material. E, nessa ponderação, o princípio do formalismo moderado assume especial relevo para o tema ora tratado. Com base nele, deve-se ter em mente que o contrato administrativo não encerra um fim em si mesmo. Conforme já explanado, o Estado brasileiro se move por meio dos contratos para se alcançar, na plenitude, os objetivos de interesse público. Também já foi assentado que as prorrogações contratuais, mormente aquelas que se referem a contratos continuados, enfeixam medida que visa a manutenção da máquina pública e constituem a melhor solução para se atingir essa finalidade. Portanto, o formalismo a ser observado nas prorrogações contratuais deve ser flexibilizado, na conformidade do direito, visando, afastar os riscos relacionados à não continuidade dos serviços contratados. Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho[12] leciona que:
Não se desconhece que no direito público é fundamental o princípio da solenidade dos atos, mas as formas têm que ser vistas como meio para alcançar determinado fim. Portanto, insistimos em que se tem por criticável qualquer exagero formal por parte do administrador. Se a forma simples é bastante para resguardar os direitos do interessado, não há nenhuma razão de torná-la complexa. Cuida-se, pois, de conciliar a segurança dos indivíduos com a simplicidade das formas.
Ainda ao tempo da vigência da lei licitatória primitiva, a jurisprudência da Corte de Contas se consolidou ao longo do tempo no sentido de considerar irregular o aditamento feito após o término da vigência contratual, ainda que amparado em um dos motivos do seu art. 57, § 1º, uma vez que o contrato original estaria formalmente extinto, de sorte que não seria juridicamente cabível a sua prorrogação ou a continuidade da sua execução[13].
Ora, partindo das premissas acima e considerando a natureza jurídica do aditivo de prazo como ato administrativo bilateral que se conforma apenas quando ambas as declarações de vontade coincidem, afirma-se, sem titubeio, que não é a lavratura e assinatura do Termo Aditivo que perfaz a prorrogação, mas sim, quando ocorre o encontro das duas declarações de vontade acima indicadas. A lavratura e a assinatura do respectivo instrumento apenas aperfeiçoa o ato, dando-lhe forma e publicidade.
Portanto, o que deve ocorrer dentro do período de vigência do contrato é o encontro da manifestação de anuência da contratada e da manifestação de autorização da autoridade competente. Havendo esse enlace, a prorrogação se perfaz, de modo que o termo aditivo exerce função meramente formal de aperfeiçoamento do ato. Com base nessa premissa, a assinatura extemporânea do aditivo não contraria a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, no sentido de que a prorrogação deva se dar durante a vigência do contrato.
Fazendo uso do exemplo acima oferecido, no contrato celebrado com início de vigência em 02/10/2025, a prorrogação teria que ser consolidada até 02/10/2026, que cai em um sábado. Se a autorização da autoridade competente (manifestação da contratante) e a anuência da contratada estiverem instruídas no dia 1º/10/2026, sexta-feira, o fato de o aditivo ser assinado pelas partes no dia 04/10/2026, segunda-feira, não representaria qualquer irregularidade.
Não se está defendendo, nestas linhas, o abandono da legalidade pela superação do formalismo excessivo, mas sua releitura à luz da finalidade pública. Afinal, a legalidade não se resume à estrita obediência à letra fria da norma, mas à sua interpretação conforme o espírito e o objetivo que visa resguardar. O princípio da solenidade deve ser observado como instrumento de segurança jurídica, e não como obstáculo à eficiência e à concretização de políticas públicas.
Do ponto de vista jurídico, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), em seu art. 22, determina que, na aplicação de normas de gestão pública, devem ser considerados os obstáculos e dificuldades reais do gestor, bem como as exigências das políticas públicas sob sua responsabilidade. Tal dispositivo reforça que a legalidade administrativa deve ser interpretada à luz da finalidade pública, e não como uma barreira que inviabilize soluções eficazes.
Na prática, a adoção desse entendimento é crucial para orientar gestores públicos e órgãos de controle interno. Ao instruir processos de prorrogação contratual, o agente deve identificar e comprovar documentalmente:
a) a manifestação expressa da contratada quanto à aceitação da prorrogação, dentro da vigência do contrato;
b) a autorização formal da autoridade competente antes do fim da vigência; e
c) a inexistência de interrupção na execução contratual ou prejuízo ao interesse público.
Atendidos esses elementos, a assinatura posterior do termo de aditamento não invalida a prorrogação, mas apenas a aperfeiçoa sob o prisma formal e registral. Esse raciocínio prestigia o princípio da continuidade do serviço público e evita soluções desproporcionais, como a paralisação de contratos de execução continuada por meras falhas de tramitação.
6. Conclusões
A racionalização do controle e a mitigação do formalismo não implicam relaxamento da legalidade, mas sim interpretação funcional da norma, conforme a finalidade pública. Assim, o controle de legalidade deve ser exercido sob perspectiva teleológica e de proporcionalidade, não de dogmatismo formal.
Logo, insistir na nulidade de prorrogações materialmente válidas, apenas por questões de forma, significa contrariar os próprios pilares da governança e da boa administração pública. Tal postura resulta na perda de oportunidade de otimização dos recursos públicos, na interrupção de serviços essenciais e, em última análise, na fragilização da confiança institucional entre Administração e fornecedores.
Negar a prorrogação com base unicamente em vícios formais — como a assinatura tardia do termo aditivo — ignora o princípio da eficiência administrativa e pode produzir resultados antieconômicos e desproporcionais. A governança pública demanda decisões baseadas em evidências, que ponderem riscos e benefícios. Nesse sentido, a prorrogação contratual não é mero ato de conveniência burocrática, mas um instrumento de gestão estratégica de recursos públicos.
Referências
ALEXY, Robert. Conceito e validade do direito. Tradução de: Gercélia Batista de Oliveira Mendes. São Paulo: Martins Fontes, 2020.
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos; SPINK, Peter Kevin. Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV.
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Processo Administrativo Federal – Comentários à Lei nº 9.784, de 29.07.2009. 4ª ed. ver. e atual. – Lúmen Júris. Rio de Janeiro, 2009.
CHAPUS, René. Droit administratif généreal. 15ª. ed. Paris: Montchrestien, 2001, t. 1.
GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 15ª. ed., atualizada por Fabrício Motta, 2010.
MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, Forense, 1993.
MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo. 3ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 13. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2003.
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo – 13ª ed. São Paulo: Método, 2025.
PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil, 4ª. ed. Coimbra: 2005.
WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. 4. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004.
*Luiz Claudio de Azevedo Chaves é Administrador Público e Jurista, pós-graduado em Direito Administrativo. Assessor Especial para Contratações de STIC do Tribunal de Justiça/RJ, onde é servidor de carreira, com mais de 30 anos de serviço. É Professor da Pós-graduação em Direito da UERJ, da Fundação Getúlio Vargas-FGV/PROJETOS e da PUC-RIO, além de diversas instituições de ensino e Escolas de Governo do País, Autor, dentre outras, das seguintes obras: Curso Prático de Licitações, os segredos da Lei 8.666/93, Lumen Juris, 2011; Licitação Pública, Compra e Venda governamental Para Leigos, Alta Books, 2016; Gerenciamento de Riscos nas Aquisições e Contratações de Serviços da Administração Pública, ed. JML, 2020; A Atividade de Planejamento e Análise de Mercado nas Contratações Governamentais, 2ª. ed. Fórum, 2023; e, Como fixar os requisitos de qualificação técnica nas licitações da administração pública, ed. Fórum, 2022. Membro do Conselho Editorial da Revista SÍNTESI – Direito Administrativo, ed. IOB.
[1] MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, Forense, 1993, p.180.
[2] Vide: Acórdãos 66/2004, 1.717/2005, 216/2007, 1.335/2009, 1.936/2014 e 2.143/2015, todos do Plenário do TCU.
[3] Prefácio à obra Gerenciamento de Riscos nas Aquisições e Contratações de Serviços da Administração Direta, Estatais e Sistema S, CHAVES, Luiz Claudio de Azevedo, ed. JML, Pinhais, 2020.
[4] BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos; SPINK, Peter Kevin. Reforma do Estado e Administração
Pública Gerencial. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, p. 36.
[5] WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. 4. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004. 2 v
[6] Sobre a aplicação prática do dever de eficiência e da razoabilidade, vide o nosso A compra de produtos pela internet, com pagamento por boleto bancário ou cartão corporativo pela Administração Pública, Blog da Zênite, 24/01/2022. Disponível em: https://zenite.blog.br/wp-content/uploads/2022/01/compra-loja-virtual-pagamento-por-boleto-possibilidade-com-ressalvas-luizclaudioazevedochaves.pdf
[7] GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 15ª. ed., atualizada por Fabrício Motta, 2010. P.190.
[8] Disponível em: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/arquivos/PARECERN062014CPLCDEPCONSUPGFAGU.pdf Acessado em 08/10/2025.
[9] Nesse sentido, vide CHAPUS, René. Droit administratif généreal. 15ª. ed. Paris: Montchrestien, 2001, t. 1, p. 491.
[10] PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil, 4ª. ed. Coimbra: 2005, p. 387.
[11] ALEXY, Robert. Conceito e validade do direito. Tradução de: Gercélia Batista de Oliveira Mendes. São Paulo: Martins Fontes, 2020. p. 16.
[12] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Processo Administrativo Federal – Comentários à Lei nº 9.784, de
29.07.2009. 4ª ed. ver. e atual. – Lúmen Júris. Rio de Janeiro, 2009. p. 77.
[13] Vide: Acórdãos 66/2004, 1.717/2005, 216/2007, 1.335/2009, 1.936/2014 e 2.143/2015, todos do Plenário do TCU.
O conteúdo deste artigo reflete a posição do autor e não, necessariamente, a do Grupo JML.